Mundo digital amplia lógica do "fica quieto e aceita"; como isso nos afeta?

Anos atrás organizei um curso sobre Lacan e Agamben na pós-graduação. O filósofo italiano inspira uma discussão crítica sobre as vidas que podem ser mortas impunemente, em acordo com uma antiga lei do Império Romano e que recebera uma espécie de reencarnação mórbida nos campos de extermínios nazistas.
Discutíamos homo saccer e a teoria do reconhecimento necessária para enfrentar os sintomas derivados da nossa experiência brasileira dos condomínios com seus muros de invisibilidade e silenciamento do outro.
Foi então que uma aluna, aliás muito querida, fez uma pergunta altamente complexa envolvendo a atitude epistemológica da psicanálise diante do feminismo e do pensamento decolonial.
Ela sabia que eu havia estudado na Inglaterra, com uma grande teórica do feminismo e que estava a par do atraso brasileiro na tradução de autores como Spivak e Fanon. Por isso, entendi a pergunta como uma provocação, como gosto e espero de meus alunos mais afiados. Respondi como pude: aceitei uma parte, fiquei em dúvida com relação a outra e passei minha conhecida betoneira no resto.
Na saída me ofereci, como sempre, para pagar o café da paz e seguir a conversa com ela, quase certo de que cada um aprendeu um pouco e "segue o jogo". Mas fiquei muito surpreso com o que ela me disse, com toda intimidade que lhe era permitida, durante ou depois da aula: "Chris, seu louco, este tipo de pergunta não é para responder".
Realmente, nunca tinha me havido com uma situação como aquela. Uma pergunta das boas, mas cujo novo protocolo era: "permaneça em silêncio e aceite".
Traduzindo o evento ao longo do tempo entendi mais ou menos o seguinte: uma pergunta, em tom acusatório como aquela, não era, na verdade, um pedido de esclarecimento cognitivo, mas um posicionamento. Era uma forma de dizer, principalmente para outros colegas da classe, que uma mulher podia interpelar um professor em público. Tratá-lo como representante de uma longa cadeia de opressões, subsidiado em instituições que durante anos e séculos escondiam preconceitos, praticavam desfavorecimentos e sancionavam iniquidades contra mulheres e outras minorias.
Minha aluna deixava claro que não era nada "pessoal". A demanda de reconhecimento deveria ser respondida com a escuta em silêncio e assentimento. Como se ali estivesse um representante do poder público sancionando a dívida simbólica, produzida pela violência e segregação continuada.
Tratava-se de uma cena pública e da luta por reconhecimento, por parte de vozes há muito despossuídas de sua possibilidade de fala. Desde então me acostumei com atos de denúncia crítica, recorrentes na composição monocromática de cursos, mesas de debates e reuniões científicas.
Entendi então que estava em curso uma transformação muito importante do que eu havia chamado, até então, de "debate acadêmico". Uma transformação gerada não pela sua retração ao nível cada vez mais exclusivo da conversa escrita entre especialistas, mas pela sua súbita e inesperada ampliação graças aos meios digitais.
Tive que aposentar minha antiga ideia "revolucionária" de que poderia usar a sala de aula como um ambiente de suspensão das diferenças e circulação livre da palavra, ao modo de um jogo de futebol, no interior do qual, respeitadas as regras, vence quem joga melhor, com argumentos, ideias e demonstrações. A liberdade artificial, assim criada, não passava de um exemplo a mais de como vivíamos um estado de falsa liberdade, com artifícios de igualdade.
O argumento replica a crítica acertada de que apenas teoricamente vivemos um estado de igualdade diante da lei, que seria equitativamente aplicada para todos, gerando um estado de competição salubre, baseado em méritos, na produção coletiva e partilhada de estados de verdade ou consensos racionais, universais e científicos.
Na prática o mundo é composto pelo crescimento da segregação, da acumulação de riqueza nas mãos de cada vez menos pessoas, de reprodução do poder político e de amarga continuidade da dominação.
Lendo Adorno aprendi a desconfiar de universais, lendo Freud percebi que a razão tem torções inesperadas e lendo Foucault percebi que a ciência é também poder e coerção. Isso contrasta com um dos piores vícios acadêmicos que é a mania de achar que somos donos, sócios ou proprietários de temas, ideias e autores.
No fundo, a nova estratégia das lutas, assim chamada, mal ou bem, identitárias consiste em romper protocolos de transformação institucionais. Estes são sentidos como demasiadamente lentos, insuficientemente práticos, constantemente parasitados por impostores e historicamente desviados para a conservação do capital social financeiro e cultural nas mãos de um mesmo biotipo social: homens, brancos, de classe alta, heterossexuais, bem educados, de extração européia … ou equivalentes. Como diz a antiga música do R&M: "that's me in the corner".
É o que Lacan chamaria de uma mudança de discurso, ou seja, uma alteração das regras básicas do futebol acadêmico que eu aprendi a jogar. É o retorno de nossa própria mensagem de maneira invertida: a violência que praticamos durante anos, perpetrando a colonização com a promessa de ideias neutras e universais, pode ser melhor escutada pelo apontamento de que ideias têm cor, têm raça e têm gênero. A beleza branca, a justiça branca, a verdade branca. Isso pode e deve ser apresentado de forma violenta ou transgressiva, ao modo de um espetáculo, como o que eu estava convidado a participar, ainda que de maneira desavisada, em minha longínqua aula de pós-graduação.
É bastante razoável, neste contexto, a distribuição de um bônus reparador, o reconhecimento de uma espécie de dívida simbólica, histórica e atual, que marca a desigualdade no interior das lutas e conflitos. Não partimos da igualdade, fictícia ou ideológica, por isso ela não pode ser invocada como regra geral do jogo do conhecimento, da palavra ou da cultura.
Reconhecer desigualdades é reconhecer a incidência diferencial da lei sobre os corpos e suas cores, disposições ou traços de exceção. O que está em questão, portanto, não é a defesa da universalidade humana, nem da palavra como mediador universal, nem dos direitos universais do homem, mas a realidade última e real do sofrimento diferencial entre as pessoas.
Chegamos assim ao forte impulso que as estratégias ditas identitárias recebem quando se organizam ao modo digital. São casos recorrentes em torno da prerrogativa discursiva na representação de raça, como os de Fernanda Torres (em relação afetiva com uma funcionária doméstica), Lilia Schwarcz (em relação a sua crítica do videoclipe de Beyoncé), Fernanda Diamant (ex-curadora da Flip criticada pela escolha de Elizabeth Bishop, poeta americana, como autora homenageada), mas também de Djamila Ribeiro (criticada pelo movimento antiencarceramento) e Anitta (por se apropriar de músicas de Ludmilla).
Prosperam casos de cancelamento, lacrações, denúncias ou ataques a pessoas, particularmente intelectuais de esquerda ou influenciadores culturais que enfrentam rituais de culpa e expiação. Enquanto isso continuo a ler Plutarco[1] e meditar sobre a importância que ele dava a arte de escolher nossos inimigos.
Confesso que ainda não sei exatamente como agir. Não posso tratar qualquer um como igual porque efetivamente estaria desqualificando a desigualdade reinante. Por outro lado, suspender as regras do jogo e interiorizar o conflito entre os que estão do mesmo lado, parece uma estratégia pouco efetiva. Criar rituais de culpa e expiação, ainda que necessários de vez em quando, também são muito pouco transformativos.
Poderia discutir minha "branquitude", de modo a desconstruir as raízes de meus privilégios e fazer a autogenealogia de meu poder. Mas não sei bem como devo ajustar contas com meus antepassados.
Se penso no lado materno de minha bisavó indígena e negra, estuprada por um branco quando estava doente de tifo, quando penso que ela teve que doar minha querida avó mulata para uma missão religiosa, não sei bem se defendo uma mulher periférica e violada ou se me arrependo por descender de um português aristocrata babaca.
Se penso em meu avô paterno, desaparecido na Rússia, lutando pelo exército alemão nazista da Wehrmacht, sou corroído pela culpa infinita e pela dívida, jamais inteiramente enunciada, com o povo judeu.
Se penso em meu pai, cuja vida foi destroçada pela experiência da guerra, detesto os aliados. Se penso na democracia e na liberdade, acho que ele mereceu, como todos os alemães que permitiram a ascensão de Hitler.
Se penso em meu tio negro, se lembro de seu sofrimento sendo discriminado, mesmo tendo um pai alemão branco de olhos azuis, mas motorista de táxi, fico de novo em dúvida.
Neste ponto me lembro do comentário de minha querida aluna: não se trata de mim, mas do que eu represento.
Em suma, vivo uma contradição entre "don't take it personal" (não devia tomar estas violências acadêmicas pessoalmente) e "political is personal" (o político é sempre pessoal). São ambos verdadeiros e acredito nisso.
Ou seja, não se trata de mim, mas dos imensos tantos outros, negros, mulheres, periféricos e LGBTQI+ que não tiveram a mesma sorte. Eles são a regra e não a exceção.
Eu, assim como meus amigos negros, meus camaradas homossexuais, meus companheiros periféricos, minhas queridas funcionárias indígenas, não somos desculpa, nem justificativa ou isenção para nada. Este discurso não se endereça a mim, mas ao que eu represento, independente de minhas circunstâncias e de minha história.
Como disse minha aluna: preciso aceitar isso, de preferência em obsequioso silêncio.
REFERÊNCIA
[1] Plutarco (2015) Como tirar Proveito de nossos Inimigos. São Paulo: Edipro.

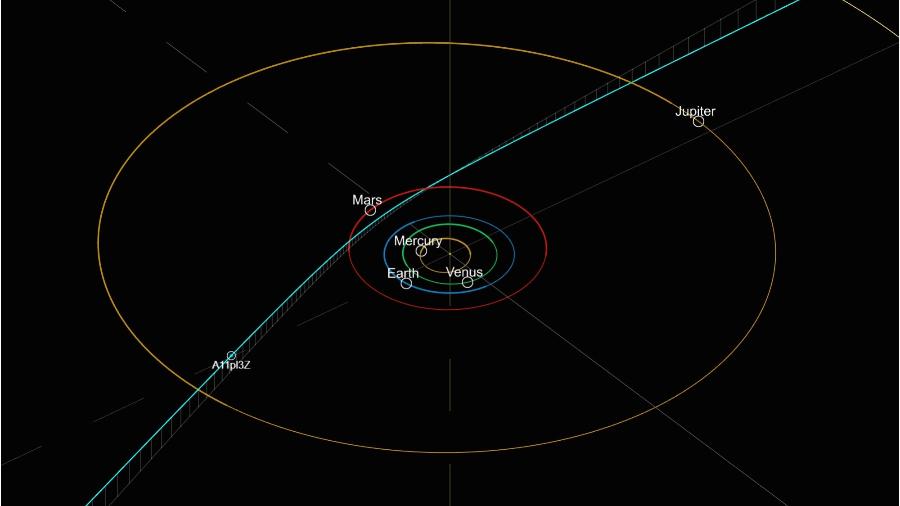










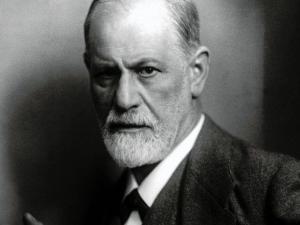


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.