Como o Brasil alcançou a mediocridade científica de hoje?

Ahmet Turan Ince/Pixabay
Comecei minha experiência como orientador de dissertações de mestrado, em 1996 na, hoje falecida, Universidade São Marcos. O ministro da educação à época, Paulo Renato Souza, havia criado um novo projeto para as universidades brasileiras, o primeiro a considerar a emergência de novos centros de ensino e formação privados. Fazia parte deste plano a abertura massiva de novos cursos de graduação e pós-graduação, junto com a intensificação dos sistemas de controle.
O conceito central residia na ideia de competição entre as universidades públicas e confessionais com os novos grupos educacionais, que poderia trazer investimentos e aumentar a internacionalização, que naquela época era ainda um horizonte distante para a maior parte de nossa produção científica.
Esta verdadeira expansão da pós-graduação, colhia os frutos de uma política ousada, ainda que por motivos um tanto nacionalista. Afinal, desde os anos 1970 o Brasil decidiu fazer das universidades um polo civilizacional do país, investindo em pesquisa e abrindo universidades federais e estaduais por todos os estados da federação. Enquanto nossos vizinhos como Argentina e Uruguai optaram por popularizar o acesso às universidades, mas formar quadros de pesquisa no exterior, nós optamos por cursos de graduação mais restritivos, com vestibulares excludentes, mas contando com a pesquisa em pós-graduação como fator de integração nacional.
Enquanto países como Chile tornavam seus parques universitários caríssimos e elitizados, o Brasil subsidiava o investimento em educação pública universitária. A constituição de 1988 agravou esta percepção ao estabelecer a divisão de tarefas na educação: ensino fundamental e médio para estados e municípios, ensino universitário para o Governo Federal.
Mas a grande ideia do ministro de Fernando Henrique não estava na abertura do ensino universitário à competição com grupos da iniciativa privada, mas na determinação de certos coeficientes de professores doutores e mestres que deveriam compor o quadro docente de qualquer instituição de ensino que se quisesse apresentar-se como uma universidade, e não como apenas um centro universitário.
O diferencial entre fazer pesquisa e dedicar-se apenas ao ensino de graduação se tornaria, conforme a hipótese, um diferencial de mercado, que orientaria a captura dos melhores alunos. Percebendo que já tínhamos um plantel básico de pós-graduações pelo país, isso seria uma forma de oferecer aos jovens doutores e mestre uma promissora carreira em uma atividade emergente da economia. Surgia assim uma alternativa, para os jovens doutores. Em vez de esperar décadas por uma vaga, por concurso, em uma pós-graduação, apostar em uma universidade privada.
Isso também funcionava como uma estratégia para gradualmente reduzir o crônico problema da concentração de recursos no sul-sudeste. Se as universidades privadas investissem pesadamente em pesquisa o Estado poderia investir nas regiões mais deficitárias na formação de recursos humanos. Isso tudo aconteceria em um cenário de saudável competição entre universidades públicas e privadas, em torno da distribuição de recursos, como bolsas de estudo.
O plano parecia viável, ou ao menos bem-intencionado, mas foi aqui que começou a se formar o pacto nacional pela mediocridade da ciência no Brasil. O Conselho Nacional de Educação, com histórica e forte representação de escolas particulares, começou a atacar a cláusula da contratação de docentes com mestrado e doutorado, reduzindo progressivamente sua exigência ou diluindo sua importância em meio a outros tantos critérios para avaliações de universidades.
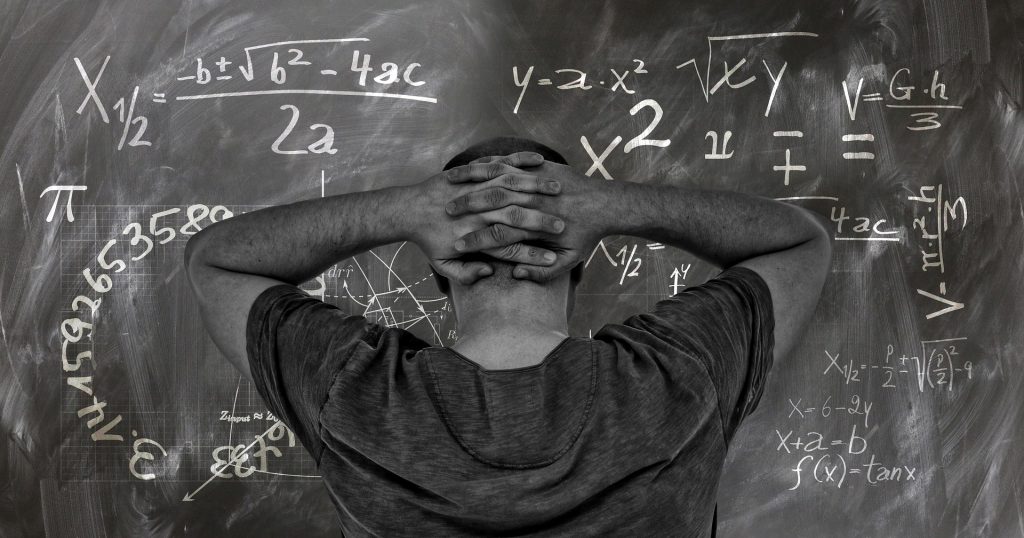
Gerd Altmann/ Pixabay
Rapidamente, as universidades particulares perceberam que investir em pesquisa não é um negócio vantajoso a curto prazo. Saíram rapidamente do páreo transformando a pesquisa em uma espécie de "imposto" que devia ser pago em troca da autonomia para poder abrir cursos livremente e sem critério. Por outro lado, a saída das universidades particulares da luta pelos investimentos em ciência aliviou o setor público que cresceu e se capilarizou, ainda mais, com os governos Lula e Dilma.
Ao mesmo tempo, os salários de professores qualificados em universidades públicas, que passaram a trabalhar em universidades particulares, começaram a cair de forma grotesca. Isso foi proporcional à entrada dos novos sistemas gerenciais implantados nestas universidades de massa, mas alimentadas pelo esforço nacional de inclusão, representado pelo Fies. Grupos como Kroton, Unip, Laureate, Cruzeiro do Sul e Uninove começaram a praticar reduções de carga horária, evadir-se da pesquisa científica, burocratizar a performance do professor, criando cursos apostilados onde a qualificação em pesquisa torna-se quase uma inconveniência.
Muitos desses grupos, que apostaram na fórmula da competição criativa, compraram pequenos centros universitários e formaram verdadeiros impérios. Muitos são ligados a políticos, como a Unipac do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB/MG), que se espalhou pelo interior de Minas Gerais. Mesmo em faculdades tradicionais a contratação de professores, em regime de 40 ou 30 horas, originalmente destinada para contemplar pesquisadores, tornou-se apenas pretexto para alocar pessoas em trabalho administrativo.
Finalmente, nos anos 2010 chegamos à era dos rankings, nacionais e internacionais, como o RUF da Folha de S.Paulo. Podíamos agora avaliar a aposta feita trinta anos antes. O resultado todos sabemos: virtualmente em todas as áreas os resultados continuam a repetir-se com as universidades públicas e fundações confessionais (como as PUCs), nos primeiros lugares. Resultados pífios para aquelas que vieram para trazer liberdade, inovação e competição para a educação universitária.
É precisamente nesta hora que o pacto pela mediocridade da ciência se radicaliza. As universidades públicas começam a ser alvo de críticas pelo seu marxismo cultural, pelos recursos que consomem, pelo privilégio que representam, chegando ao questionamento da pesquisa científica como um valor, afinal "não tão importante assim". Tive que assistir, com os olhos que esta terra há de comer, uma representante do Ministério da Educação, diante de quinhentos pesquisadores, declarar que: "não precisamos nos preocupar tanto assim em crescer, pois já fizemos um excelente trabalho". Isso antes de pedir para projetar os dados do Mato Grosso do Norte – isso mesmo, e repetido (lembrando que o estado chama-se apenas Mato Grosso).
É irônico que quando as políticas de cotas começam a mostrar resultados efetivos, momento no qual temos, pela primeira vez em nossa história, mais estudantes negros do que brancos em nossas universidades, tenhamos que enfrentar, um retrocesso, com poucos equivalentes internacionais, na importância política e social da ciência.
É verdade que a universidade não soube tornar mais visível sua produção, nem se empenhar para tornar a formação política e científica básica nas escolas uma matéria decisiva. O apagão de professores, principalmente de exatas, foi se formando no Brasil debaixo dos olhos impotentes dos professores universitários.
Tornamo-nos mais preocupados em publicar artigos e remar na produção da pós-graduação, do que intervir em nossa realidade social ou em participar mais ativamente da formação e aplicação de nossas políticas públicas. Nos despreocupamos dos cursos de graduação, pelos quais não somos assídua e sistematicamente avaliados. Por outro lado, nossos salários estão bem abaixo da realidade internacional, e pelo que nos pagam ainda fazemos bonito em manter universidades grandes, competitivas em termos de pesquisa.

giovannacco/ Pixabay
O pacto pela mediocridade da ciência no Brasil não se produziu por meio da redução da qualidade, ou da pujança de nossa participação no cenário global, mas pela estratégia de mudar o problema de lugar, sem resolvê-lo, mas sugerindo uma solução "barata e indolor".
Se as universidades públicas, apesar de tudo, ainda estão muito à frente do que a iniciativa privada, apesar dos 30 anos de "livre comércio", isso se deve, em grande medida, ao fato de que a ciência não é um negócio rentável, principalmente quando se considera a extensão das áreas envolvidas e quando se leva em conta a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, envolvendo produção de tecnologia a longo prazo, ou ainda de tecnologia que serve apenas para nos controlar (como o monitoramento de queimadas na Amazônia ou o derramamento de óleo no mar).
O raciocínio medíocre diz o seguinte:
Mantenha o que for de absoluta excelência ou lucratividade e jogue fora todo o resto. Fique com os fetiches do momento. Despreocupe-se com as áreas que são destinadas à formação mais genérica ou de longo prazo, como pensamento crítico e inovação, afinal, temos tantos problemas mais graves, como qualificar nossos alunos de ensino básico. Por que deveríamos nos preocupar com aqueles que são, de certa forma, privilegiados?
Este tipo de raciocínio cativa e conspira. Ele aproveita a desigualdade do país, em termos culturais, para mobilizar a hostilidade moral contra a ciência. Nosso problema agora não é mais oferecer chances equitativas de boa educação para todos (o que custa caro), mas eliminar professores ideológicos ou alunos que fumam maconha. Deixemos de lado os empresários que estão fazendo fortuna vendendo educação de baixa qualidade, explorando de graça nossos preciosos pesquisadores, formados a peso de ouro, com subvenções públicas e pagas por todos nós.
O argumento usa a justa indignidade contra a concentração de capital cultural no Brasil para sugerir que isto pode ser resolvido pela redução dos gastos em pesquisa. Como se para acabar com a desigualdade econômica bastasse eliminar os ricos do país, em vez de ajudar mais pessoas a enriquecer. É um raciocínio tosco que explora a boa fé na religião da prosperidade gratuita. O tosco equipara o custo social da ciência com o da aprendizagem pela "internet", ou com o dos "cursos à distância" (que em si não seriam má ideia, não fosse sua péssima aplicação, como extensão do golpe universitário).
O saber obtido por meio do paciente esforço educacional é, no fundo, impostor e ilusório, afinal, vejam só: "tantas pessoas fazem faculdade e depois não conseguem emprego". Percebendo que as regras de ascensão social não são tão claras quanto pensávamos, e que boas faculdades nem sempre redundam em bons empregos, percebendo ainda que há outros fatores segregativos ativos e em curso no Brasil, o pacto pela mediocridade na ciência te oferece trocar toda esta complexidade e risco por uma justa miséria intelectual para todos.




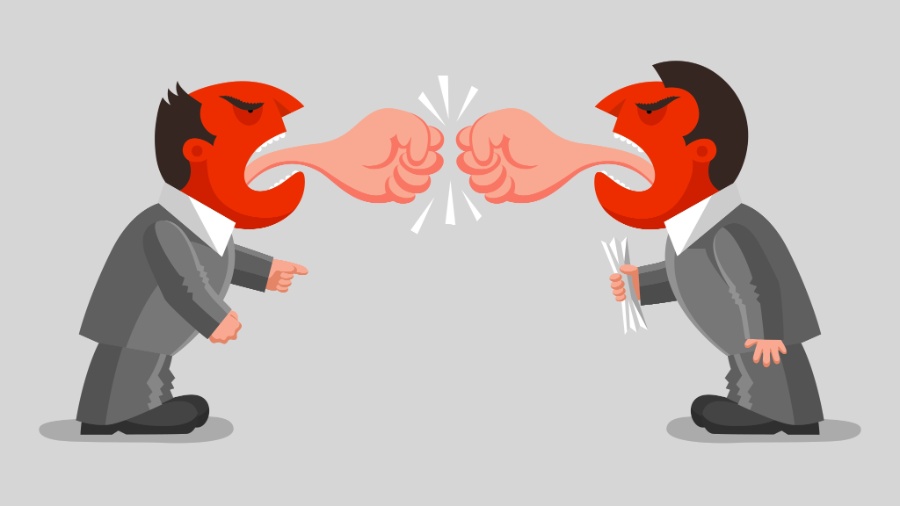










ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.